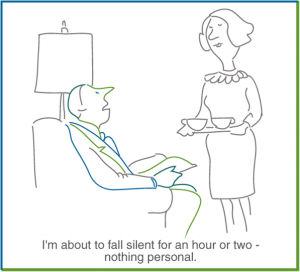 Ela o chama, ele finge que não ouve, e a isso se dedicam há mais de 30 anos. Claro, têm também outras ocupações: ele é advogado, ela é assistente social, há o pôquer às terças e o almoço na irmã, às quintas, mas não empenham nessas atividades metade da energia ou do método envolvidos em chamá-lo e não ouvi-la.
Ela o chama, ele finge que não ouve, e a isso se dedicam há mais de 30 anos. Claro, têm também outras ocupações: ele é advogado, ela é assistente social, há o pôquer às terças e o almoço na irmã, às quintas, mas não empenham nessas atividades metade da energia ou do método envolvidos em chamá-lo e não ouvi-la.
Falando assim parece fácil e sem graça, mas três décadas de treinamento transformam qualquer jogo da velha na batalha de Waterloo, de modo que é preciso observar a cena com a atenção de quem lê um poema ou desarma uma bomba (ou lê um poema E desarma uma bomba) para descobrir todos os meandros ali escondidos.
O volume no qual ela o chama, por exemplo, deve ser meticulosamente calculado: não tão baixo que dê a ele a possibilidade de realmente não ouvi-la nem tão alto a ponto de tornar impossível fingir não havê-la escutado. Pois não ouvir também requer atenção e esmero. Digamos que eles se encontrem no corredor, frente a frente, e ela o chame: difícil fazê-la crer que não escutou. Como em toda arte, verossimilhança é fundamental. É preciso estar em outro cômodo, é preciso que passe um carro na rua, é preciso estar deitado sob a pia, vedando um sifão -afastado, portanto, distraído, portanto, concentrado, portanto-, para ter legitimado seu silêncio. Aí sim ele pode espraiar toda a sua agressividade, colocando na mulher a diabólica pergunta: não terá mesmo me ouvido ou apenas finge, calado?
Passados alguns segundos, ela o chama outra vez, um pouco -mas só um pouco- mais alto. Nada. Vem então a terceira chamada. O terceiro vazio. Eis o ápice. É uma casa cheia de gás, à espera da fagulha, uma bexiga aproximando-se da agulha, o segundo antes do trovão, e a regra é clara, Galvão: quem gritar, perde.
Será ela a urrar o nome dele, aliviando o ódio, mas baixando a guarda e dando-lhe a chance de encaixar um direto -“Eu tava lá no escritório!”, “Tá barulho na rua!”, “Eu tô aqui consertando o sifão!” -, ou ele é quem responderá, esgoelando-se -“Que é, caramba?!”, abrindo para ela a oportunidade de tripudiar, “Tô te chamando há horas!”, “Tá completamente surdo!”, “Cê precisa usar aquele aparelhinho do tio Laurindo!”?
Há, claro, inúmeras variações neste jogo e seria preciso uma edição inteira do caderno “Equilíbrio” para falar de todas. Às vezes, por exemplo, quando ela o chama baixo demais, ele responde imediatamente, como que negando, assim, toda a história das hostilidades e os antigos crimes de guerra. Noutras ocasiões, estando frente a frente, ela o chama quase gritando – um comentário sarcástico e nada sutil sobre a vida a dois nos últimos 30 anos.
Vendo de fora, a tendência é pensar que ela é a vítima e ele o algoz. Que nela está a carência e nele o poder de supri-la -ou negar-se a-, mas na verdade é mais complexo. Não há condutor ou conduzido nesta dança, é um jogo sem vencedores e sem fim, um jogo tão secreto quanto barulhento, uma metástase que já não pode ser extirpada, que aos poucos não está mais só em chamá-lo e não ouvi-la e, quando menos se espera, é capaz de colocar num “bom dia” a violência de uma facada.
* Publicado originalmente no Caderno Cotidiano da Folha de S. Paulo de 25/4/12



